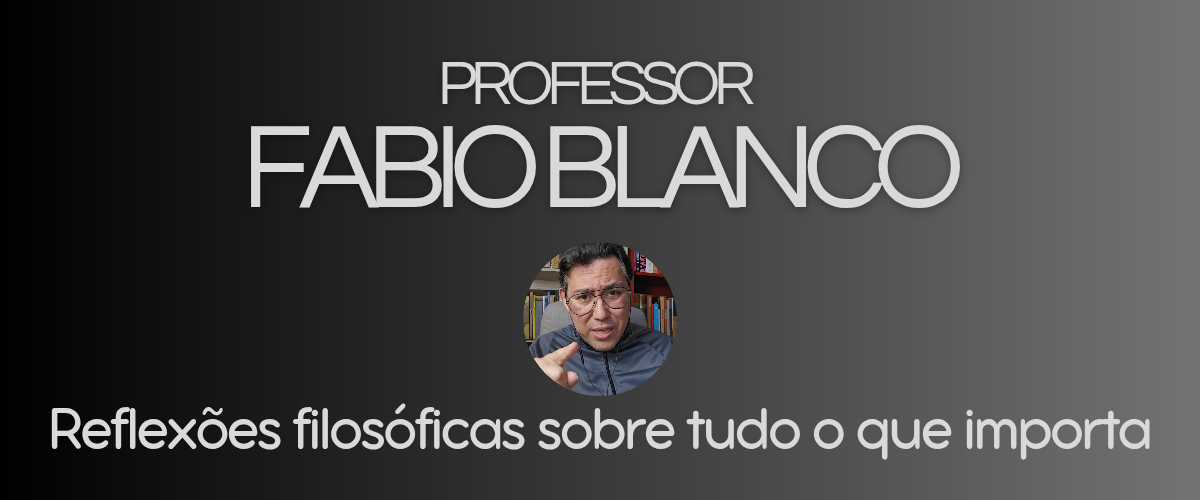A inteligência é naturalmente valorizada pelos homens. Basta notar como qualquer um se ofende ao ser chamado de ignorante. O ato de ignorar é visto como defeito; o de entender, como virtude. Não por acaso, a mentalidade comum tomou a “inteligência” como um adjetivo e o ato de chamar alguém de inteligente como um elogio.
Nesse sentido, a inteligência costuma ser vista como um estado — algo inerente ao que a pessoa é, que a constitui. Sob essa ótica, pareceria descabido querer deixar de ser ignorante para tornar-se inteligente: se a inteligência fosse uma essência imutável do indivíduo, desenvolvê-la não passaria de uma vã pretensão.
No entanto, essa concepção estática é um erro. Longe de ser um estado, a inteligência é, na verdade, um instrumento.
A própria etimologia confirma essa visão: a palavra vem do latim intelligere, que significa “inteligir” — ou seja, “escolher entre”, “compreender”. Logo, a inteligência é a ferramenta que nos permite interpretar a realidade e que nos auxilia a entender aquilo que observamos. E, como toda ferramenta, ela pode ser bem ou mal utilizada; pode ser aprimorada ou mantida em seu estado bruto; e pode tornar-se mais adequada aos seus propósitos.
Por isso, o que diferencia os homens, neste aspecto, é precisamente o que fazem para aperfeiçoar a própria capacidade. Enquanto alguns se preocupam em desenvolvê-la para compreender melhor o mundo, outros simplesmente a preservam como a receberam. Estes acabam por ter à disposição algo como uma tesoura cega nas mãos de um costureiro: uma ferramenta que mantém sua função original, mas a executa mal.
Portanto, nada mais justo do que trabalhar pelo desenvolvimento da inteligência. Fazê-lo não é vã pretensão nem arrogância, mas uma obrigação ética. Afinal, se declaramos que nossa vontade é a de nos tornarmos aptos a compreender as coisas, nada é mais coerente do que tornar o instrumento que nos permite isso mais propício ao cumprimento do nosso desígnio.